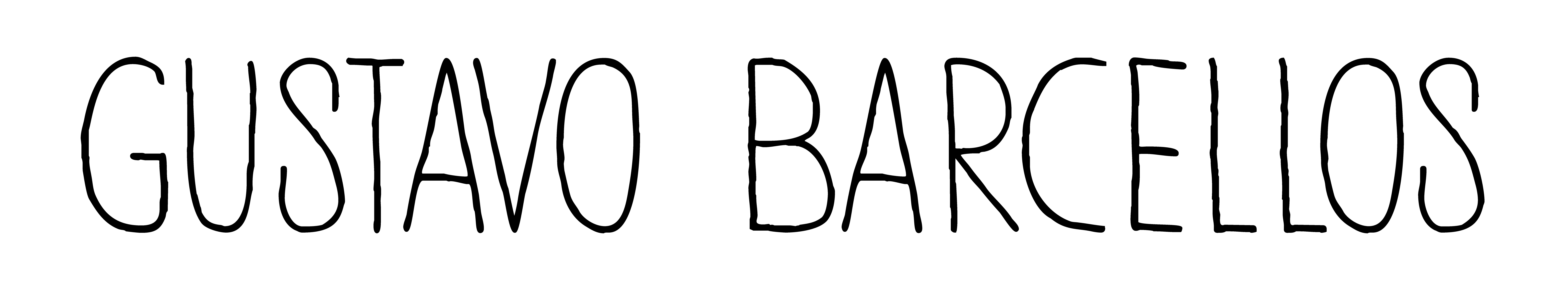Foto por: Carlos Moreira
O homem é um ser de fronteira que não conhece fronteiras nem limites.
—Georg Simmel
para meu amigo Carlos Moreira
Sobre abrigos
Deixem-me começar com algo que me parece muito importante: a noção de lugar. Como seres vivos e naturais, estamos sempre ligados a um lugar, seja de modo consciente e ativo, ou inconscientemente, sem nos darmos conta. Localizar-se é fundamental e, para fundamentarmo-nos, estamos buscando nos localizar a todo o momento, de um jeito ou de outro. Nessa busca constante, olhamos para dentro e olhamos para fora de nós. Queremos saber onde estamos, precisamos saber onde estamos em nós mesmos e no mundo. Localizamo-nos. E estamos sempre num lugar, sempre localizados, mesmo que na imensidão infinita do espaço sideral, ou no desconhecido e labiríntico ciberespaço, ou ainda no não-onde da imaterialidade de um mundo espiritual. Estamos postos em algum lugar, com relação aos sentimentos, às ideias, e também posicionados nos ambientes em que vivemos, nas relações que nos enlaçam, nas lembranças que temos e que nos têm, nas indagações, nos sonhos e nas reflexões. Queremos e precisamos nos localizar — quando as emoções nos atrapalham, quando nos perturbam as circunstâncias, quando os relacionamentos nos desafiam, quando os contextos nos desorientam, quando não sabemos o que queremos, ou o que pensar, quando perdemos o interesse pelas coisas, quando nos apaixonamos, ou quando não estamos entendendo nada. Quando tudo isso nos desloca, buscamos localizações. Perguntamos, “em que lugar estão as coisas?”, “para onde as coisas estão indo?”, “de onde vem isso?” Ficamos horrorizados quando as coisas estão “fora de lugar”, e tantas vezes precisamos “por as coisas no lugar”.
Um lugar é uma posição, um ponto de onde vemos e compreendemos as coisas. Tudo tem um lugar, que é o mesmo que dizer que no mundo há um lugar para tudo, para todos.[1] É isso afinal que está na origem da palavra situs, sítio, o anseio de situar, de compreendermos as situações. Situs, locus, referem-se a qualquer lugar ocupado por um corpo, um corpo numa situação, a estrutura invisível ou o estado das coisas, a localidade onde algo existe ou de onde se origina. In loco. Locus amoenus, lugar ameno — uma paisagem idílico-bucólica que está entre os importantes tópicos da literatura clássica — é o jardim, o mais perfeito dos lugares.
Mas também somos um lugar. O que somos apresenta um lugar, para nós e para os outros, um ponto de partida, de irradiação de nosso ser. O que somos afirma um lugar, diz o que pertence a nós e ao que somos pertencidos. As abstrações da linha e do ponto se encontram no que somos e fazem de nós um lugar.
Pertencemos a um lugar — um país, uma cidade natal, um bairro, uma casa, o mar, uma floresta. Pertencer pertence à constelação arquetípica do abrigo. Nela também estão o ventre, a mãe, a terra natal, e o túmulo. Abrigo diz muitas coisas, tem muitas conotações. Mas abrigo é sempre um continente, pois um abrigo contém, realiza sua vocação de conter. Um abrigo é um lugar. Quando queremos ou precisamos interromper o fluxo incessante dos eventos, quando desejamos nos localizar, fazemos vasos, fazemos continentes, ou seja, entramos num lugar. Estes, nos abrigam, nos recebem, pois contêm para nós o fluir dos acontecimentos. Realizam o anseio continental. Um lugar nos abriga porque momentânea ou definitivamente pertencemos a ele. Ele é propriamente um continente, uma recepção. E é aqui que podemos começar, aos poucos, uma tentativa de falar de fronteiras. Bem aqui, bem abrigados.
Um abrigo tem portas, portões e, naturalmente, paredes. Portas e paredes, essas se fecham para abrigar. Por sua duplicidade de “abre-e-fecha”, já fazem parte de nosso tema, já nos colocam no universo das fronteiras. Como elementos sonhadores, que fazem sonhar, portas e paredes são necessárias para nos sentirmos abrigados e acolhidos, para acolher nossos sonhos, e para a quebra eventual desses mesmos sentimentos. Uma parede encerra, é como nossos olhos cerrados. Porém, um abrigo pode ter muros, quando então abrigar é proteger-se ou, de forma ainda mais intensa, defender-se. No entanto, antes dos muros, e de modo muito diferente deles, as paredes nos lembram mais intensamente o pertencimento.
Paredes não são muros. Muros vêm depois das paredes e trazem, como veremos, outra psicologia. Paredes, como as portas e os portões, tanto dividem quanto unem, tanto abrem quanto fecham, pertencendo assim ao mesmo esquema arquetípico. O emparedamento, para Durand,[2] está associado ao tema da intimidade, e o anseio por abrigar-se é o desejo de intimidade. Isso, atrás de portas e de paredes. Muita coisa acontece imediatamente atrás das portas — canções, despedidas, silêncios, segredos, maldições, magia. É um espaço psicologicamente dramático. Os muros, ao contrário, nos lançam em definições mais duras, mais duráveis e mais hostis.
Muros não são pontes. Muros desligam, destacam. Muros e pontes guardam entre si uma relação de antítese. Em outras palavras, pontes não são desapegos, desafetos, despedidas. São travessias, e se inscrevem no esquema dos elos. Pontes atravessam fronteiras. Pontes são ligações, atravessamentos, atenções deslocadas, e nelas vigoram os olhares divergentes. Em outras palavras, pontes são exercícios de perspectiva, exercícios do olhar. Com elas, aprendemos principalmente sobre o fluxo de olhares, que olhares são fluxos, e como são saudáveis esses fluxos para uma economia das emoções, das emoções físicas. Voltaremos logo a olhar para as pontes.[3]
Fronteiras não são muros. Mas fronteiras podem virar muros. Muros são sempre a alucinação das fronteiras, a fronteira levada a seu extremo patologizado. Em outras palavras, o muro é o sofrimento da fronteira, quando ela então experimenta seu veneno, e desconhece sua vocação de união, adentrando, pedaço a pedaço, tijolo por tijolo, o pesadelo da separação, da segregação, da discórdia, quando separação não quer dizer discriminação, distinções, mas desunião, muitas vezes rechaço paranóico do Outro. Fazer distinções é importante e necessário. Faz ego e, com o ego, o mundo civil. As distinções do ego criam limites, e portanto coagulam experiências, ajudam a formar posições, ideologias, a dar forma a projetos e planos. Toda forma vem dos limites. O próprio ego ganha forma a partir do estabelecimento de limites, da função separadora dos limites. Limites geralmente nos mostram onde as coisas terminam, assim nos ensinando algo sobre a finitude e, nesse sentido, são uma preparação para a morte. Por outro lado, aquilo que as fronteiras distinguem, fazem-no apenas indo ao fundo do paradoxo da união. Em outras palavras, muros são modos de desencontro, são separações, sonhos separatistas, sonhos de diferenças desapreciadas, e com eles estamos isolados. Separatismo é a doença da separação, separação como doença.
Será preciso uma psicologia da separação para entendemos profundamente os muros e o que eles fazem dentro de nós. A operação que levanta muros dentro de nós é um elogio da separação. A alquimia entende essa operação como importante e imprescindível para o estágio inicial da obra, conhecido como nigredo, e a chama de separatio, a arte de dissolver os metais para separar o puro do impuro, o espiritual do corpóreo. Todas as outras operações subsequentes — coagulação, conjunção, fixação, circulação — não podem acontecer sem que ela tenha sido realizada na alma, o que é o mesmo que dizer que somente aquilo que foi primeiramente separado poderá ser adequadamente reunido. Uma lição de psicologia aplicada. Essa operação está presente na literatura, nas belas artes, na canção popular. Mais perto de nós, à guisa de exemplo, apreciemos esses versos de Vinícius de Moraes, poeta do “Soneto da Separação”, que já nos entrega toda essa psicologia:
De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
(…)
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.[4]
Muros, em geral, são paixões, são fruto de paixões invertidas. Sempre um muro denuncia uma fixação, um modo de olhar para o mundo que se tornou rígido, uma ideia fixa, que gostou de fixar-se dentro de nós. Por trás de um muro, há sempre um mundo fixado, emparedado. A ausência de plasticidade dos muros, sua vocação para o unívoco e o acabado, a fixidez de suas interpretações, a solidez de sua verdade, acentuam a mentalidade dogmática. Todo muro mostra uma propensão para o dogma. Muros levantam oposições, constroem diferenças vividas como irreconciliáveis, diferenças que já deixaram de ser apreciadas, deixaram de ter valor. Muros nos envolvem com as filosofias dualistas do sim e do não, num movimento de clivagens e lateralidades, isto ou aquilo, e com a lógica das exclusões. Muros são monoteístas, pois encaram uma só verdade exclusiva de cada vez. Os muros elevam artificialmente o valor das coisas. A antítese e a hipérbole são suas figuras de estilo.
Um muro é portanto um borrão, apaga a apreciação das diferenças. No momento em que erigimos um muro, dentro ou fora de nós, somos deixados apenas com dois lados, apenas com duas posições divergentes. A variedade de posições é reduzida à sua condição binária. Sendo borrões, os muros participam do esquema psicológico da negação.
Se falo de muros, é para melhor apreciar seu desdobramento eficiente: as fronteiras. Fronteiras são mais amplas que os muros, e como elementos intermediários podem ser constantemente transformadoras. O significado mais profundo e fundamental da fronteira está refletido apenas em parte nos muros. Fronteiras são posições, não o-posições, e marcam lados dentro de nós. Esses lados podem ser vários, como geralmente o são em qualquer situação significativa. A imaginação das fronteiras entende um mundo variado, de muitas nações, de muitas noções. A ideia das fronteiras é em si uma ideia heteroafetiva.
Os muros apresentam “a preocupação diurna e solar da distinção”,[5] que nunca de fato se afasta muito de nossos impulsos mais heróicos. Assim, os muros integram elementos masculinos; as fronteiras, femininos. As fronteiras colocam no feminino aquilo que nos muros está no masculino. Colocam no feminino todo o pensamento dos muros e dos limites.
Agora vivemos novamente num tempo de muros, de sonhos murados. Precisamos aprender a trabalhar melhor os muros dentro de nós, pois eles interferem em nossas concepções de fronteiras. Para tanto, quero tentar uma poiesis das fronteiras, ou seja, um entendimento das fronteiras, digamos, “para dentro”, e não “para fora”, à partir de sua perspectiva imaginal própria, fronteiriça e numinosa. Fazer fronteira. Assim como no movimento habitual de qualquer psicanalista, precisamos “entrar dentro” da ideia de fronteira para entender sua psyché. Imaginá-las por fora apenas as vê como bordas ou fossos, trincheiras entre lados opostos, defesas, resistências, fortificações, e seus desdobramentos lógicos nos movimentos separatistas, nos purismos ideológicos paranóides, nas fúrias nacionalistas narcisistas, no medo de invasões bárbaras, nos controles imigratórios, exclusões hostis, xenofobia, preocupações urgentes com segurança e armamento, as muralhas das cidades, os gabinetes de defesa, o militarismo, a espionagem, que apenas literalizam as fronteiras em muros. Muros, sejam físicos ou não, são o resultado de não entendermos as fronteiras como campos intermediários, as fronteiras como conexão. A função de conexão está na alma das fronteiras.[6] Vista a partir de sua interioridade inteligível, uma fronteira não é separação, é união. Fronteiras são zonas de convergência. Fronteira é uma zona, zona fronteiriça.
O muro é mudo, a fronteira fala.[7] O que escutamos quando ouvimos a palavra fronteira? Ela serve a tantos saberes, designa abstrações tão importantes, constrói tantas narrativas sociais, provoca tantos clamores ideológicos, envolve gestos tão políticos, define os estados, afeta igualmente homens e países, presente em terras, ares e mares, evoca tantas fantasias arquetípicas de territorialidade e domínio, soberania e independência, igualdade e diferença, local e estrangeiro, que uma psicanálise das fronteiras resumiria para nós o Mundo.
Há fronteiras por toda a parte, fronteiras de raça (entre cores de pessoas), de idade (entre fases da vida), de saúde (entre enfermidade e cura), de sanidade (entre razão e loucura), a fronteira irredutível que separa os homens mortais (athanatoi) dos deuses imortais (thnetoi), e também as fronteiras psicológicas entre ego e alma, o Eu e o Outro, o Eu e o Inconsciente.
Fronteiras são muitas vezes entendidas pelo viés do arquétipo do herói, quando então trazem consigo a fúria expansionista. A “expansão de fronteiras” é um impulso arquetípico, e a história testemunha muitos de seus momentos, com guerras e massacres, tratados e acordos, diplomacia e protocolo. Começa e termina no ego. Uma psicologia baseada em expandir fronteiras, ou seja, na ampliação da consciência, no desenvolvimento e na lógica da conquista, da adaptação e do auto-conhecimento, o projeto de tornar consciente o inconsciente, é uma psicologia expansionista. Não faz alma, faz ego. Fronteiras (e neste ponto, os limites) e expansões (e neste ponto, o crescimento) estão arquetipicamente relacionadas: umas parecem constelar as outras. Formam assim uma sizígia.
Quase sempre usamos a palavra fronteira para nos referirmos a limites, a bordas, margens, demarcações, extremidades, limiares. Linha convencional que marca os confins de um Estado. Mas fronteiras, quando consideradas em si mesmas, por meio de seu próprio imaginar, são comunicação, diálogo, o lugar onde duas (ou mais) coisas se encontram, onde podem se enxergar — não onde se dividem, ou se desunem, ou se partem, corações partidos. Isso parece crucial para a imaginação das fronteiras: o ponto onde há encontro, ponto de contato. Por trás de uma fronteira, há sempre um acordo, um acordo de vizinhança, e de diferenças. Uma fronteira é sempre heterogênea. Em outras palavras, fronteiras não são divisórias, são junções. Uma fronteira, a meu ver, vincula, não separa. Aquilo que separa são os muros. E sabemos que uma das maneiras mais significativas de vivermos junções é certamente por meio de sua metáfora mais potente e vivaz: as pontes. Uma ponte é uma poética física das uniões.
O ego projeta pontes, mas é a alma que as trafega.
Sob as pontes, passam os rios. Também os rios são importantes para a imaginação das fronteiras. Rios são notórios marcadores de fronteiras. Tantas vezes uma linha de fronteira estará traçada por um rio, pois muitas delas foram e ainda são demarcadas por rios, o que traz para a imaginação das fronteiras um elemento líquido, fluido, flutuante, corrente, para enfrentarmos a fixidez da topologia demarcatória. Ao demarcarmos, fixamos. É o risco que corremos sempre que precisamos marcar posições. Uma topologia das fronteiras esteve e está ligada fortemente ao fluxo dos rios, o que faz dos rios fronteiras genuínas.
A sinceridade dos rios é inquestionável. Tantos poetas sabem disso, de Eliot a Bandeira, de Dante a Blake e a Mario de Andrade. Os rios são para nós entes queridos, quem não ama ou não amou um rio? Quem deixou de amar um rio na oportunidade feliz de sentir uma fronteira marcada por ele? De sentir pela primeira vez um “além”? Amamos os rios pelos presentes que eles nos dão, inúmeros, entre eles, mais que tudo sem dúvida, a ideia de fluxo, que serviu a tantos filósofos como uma metáfora da vida, como uma metáfora da alma.
Ainda mais, eles nos dão a bela ideia das margens e, com as margens, a experiência das travessias e das fronteiras. Isso, na voz de Eliot, ecoa assim:
Não sei muito acerca de deuses, mas creio que o rio
É um poderoso deus castanho — taciturno, indômito e intratável,
Paciente até certo ponto, a princípio reconhecido como fronteira,
Útil, inconfidente, como um caixeiro-viajante.[8]
O deus das fronteiras
Por causa exatamente das margens e das travessias, entendo que uma fronteira leva-nos à consciência do “entre”, do espaço intermediário, o espaço mercurial por excelência. Marca a aparição de uma consciência hermética. Hermes era adorado nas fronteiras, o que implica que a consciência das fronteiras é uma consciência hermética. “Fronteiras aparecem em qualquer lugar assim que adentramos aquela duplicidade da mente que escuta dois modos ao mesmo tempo”.[9] O que caracteriza a consciência das fronteiras é a duplicidade da mente. Hermes testemunha para nós essa duplicidade, mas há outra figura mítica mais agudamente ligada à consciência dupla, um deus que para a imaginação politeísta clássica está ligado à força primordial que deu forma ao universo (também chamada pelos gregos de caos), deus com duas cabeças que olham simultaneamente para lados opostos. Um deus cuja estátua, um exemplar em pedra, Freud adquirira para colocar em seu consultório. Será o deus da psicanálise? Uma figura em que duas faces ligadas de costas olham uma para frente, outra para trás, uma para o passado e outra para o futuro, e que portanto considera dois pontos de vista ao mesmo tempo, sem vivê-los necessariamente como opostos, ou mesmo como alternância, fusão ou conjunção. Divindade de personalidade complexa, que não encontra correspondente em outras mitologias indo-européias, impõe-se protetora ou ameaçadora. Falo de Jano, Ianus, o deus romano que preside sobre os começos e os fins, deus das mudanças e das transições, das transposições. Jano concretiza sua epifania nas portas e nos portões; neles, celebra a dialética do abrir e fechar. É representado portando uma chave, geralmente na mão esquerda, ele é o porteiro. Sua existência afirma para nós que tudo pode ser um portal, ainda que não enxerguemos o portal. Sempre que iniciamos ou terminamos algo, temos a possibilidade do portal, a possibilidade de adentrar ou sair, a possibilidade de uma ruptura de nível, como ensinavam os alquimistas, o trânsito de um estado para outro. Assim, sua dominância arquetípica é sobre nossas experiências com entradas e saídas, com passagens e transições, ou seja, com fronteiras. A fronteira é um modo de viver o mundo criado no cosmo janosiano.
É certo que Hermes é perfeitamente um deus das fronteiras pois é deus do comércio, dos intercâmbios, das barganhas e transações de trocas que se dão nos limites, nas fronteiras do mundo e de nossa psique. Com ele, mercamos. Com ele, negociamos. Isso é tão importante psicologicamente que Rafael López-Pedraza nos diz que, nada mais nada menos, “a negociação tem sido um dos caminhos para a sobrevivência natural.”[10] Como Senhor das Estradas, Hermes “demarca nossos trajetos e limites psicológicos,” e assim “assinala o perímetro de nossas fronteiras psicológicas e estabelece o território a partir do qual, em nossa psique, tem início o desconhecido, o estrangeiro”.[11] No entanto, quero crer que a presença de Jano nas fronteiras é ainda mais definitiva que a de Hermes, mais profunda e definidora, pois salienta a sua membrana, seu poro, o seu entrar e sair, seu trânsito, sua transação, mais nitidamente que o fato de fronteiras serem limites. Hermes faz conexões, mas Jano é a passagem, aquele que abre a porta para a conexão.
De modo diferente de Hermes, Jano é também deus do comércio, pois é deus do transporte, deus das transposições. Como a energia que domina a experiência das viagens e do intercâmbio, ele estará presente nas aduanas, nas alfândegas, nas imigrações, nos postos de controle, nas docas, passaportes, vistos, bagagens, importações e exportações, comércio exterior, relações internacionais, diplomatas, embaixadores, exilados, refugiados, extraditados, expatriados, deportados, em tudo aquilo que pertence ao cosmo fronteiriço, sua regulação, sua dinâmica, seu dínamo, ali onde nossas vidas podem caminhar para frente ou para trás, mudar de lugar, momentânea ou definitivamente.
A etimologia de Jano parece querer dizer “estar aberto”, pois ele está na proteção aos começos, e daí o nome januarius para o mês que inicia o ano no calendário romano, janeiro, o mês da nova porta. É o deus dos amanheceres. Ovídio faz sua descrição do deus em seu livro Os Fastos, conhecido porque trata do calendário romano instituído por Augusto, onde o poeta latino apresenta as principais festividades e os cultos da Roma Antiga e sua mitologia. A obra compreende apenas seis livros, cada um referente a um mês do calendário, apenas de janeiro a junho, pois ficou incompleta.
Ele é Clusius, aquele que finda, é Consivius, iniciador da vida, é Geminus, o duplo, é Matutinus, a luz da aurora, é Patulcius, aquele que abre, Quirino, Popanon, Pater, mas principalmente chamado Janitor, seu epíteto de porteiro, sinalizando que, conforme sua vontade, as portas se abrem ou se fecham diante de nós.[12] Aberturas e fechamentos, chegadas e partidas, estão em todas as experiências mais cruciais que temos. Jano é, portanto, o movimento inicial em todas as coisas, movimento que abre ou fecha portas, que nos permite avançar ou recuar, e é isso que me faz entendê-lo como a força arquetípica presente nas fronteiras. Dito dessa forma, compreendemos inteiramente que é nas fronteiras que tudo começa.
Em muitas de suas representações, sempre tão perturbadoras, Jano também pode aparecer com uma cabeça barbada de ancião e outra de jovem imberbe, perfazendo assim uma imagem de senex et puer, de união de velho com novo e de novo com velho, a união dos iguais, imagem que cura um arquétipo cindido. União paradoxal é sua marca, o que o coloca em linha com outras criaturas monstruosas da mitologia, tais como o grifo, as esfinges, as harpias, o andrógino, o Minotauro, as quimeras.
Jano é deus da horizontalidade, pois não olha para cima ou para baixo, olha para Leste e Oeste, percorrendo ao mesmo tempo o campo nivelado dos acontecimentos de passado e futuro, de ir e vir, numa simetria de perspectivas. Este é seu eixo, um eixo lateralizante, simétrico. Já Norte e Sul pertencem a outro esquema arquetípico, mais espiritualizado, e marcam o eixo vertical e seus sonhos de elevação e abismo. O eixo horizontal, Leste e Oeste, ao contrário parece afirmar, como o próprio deus, as experiências do mundo e do fazer alma (soul making) neste mundo, quando estamos mais envolvidos com os enlaces e desenlaces do ao redor.
A vida secreta dos ângulos
Um deus da dualidade, Jano inicia o modo de consciência duplo. Suas duas cabeças co-presentes e co-eternas indicam as alternâncias de perspectiva que se dão particularmente por meio do ângulo de 180 graus. Também os ângulos desenham poéticas.
A existência dos ângulos é tão potente quanto a da linha reta. A linha reta é inflexível, é criação do homem, como dizia Oscar Niemeyer, não da natureza — curvilínea e sinuosa — ou dos deuses — flexíveis e contraditórios. É uma abstração espiritual. Mas, para quem olha poeticamente, ela aparece no tronco de uma árvore, no horizonte infinito, num floco de neve. Assim como, por exemplo, na agudeza da mente de Apolo, o “poderoso flecheiro”,[13] arqueiro que nos ensina a arte do tiro, arte da linha reta. Retas e curvas, retas e ângulos compõem nossa vida com a natureza e com os deuses.
Nossa vida psicológica nas metrópoles modernas está toda baseada na linha reta euclidiana, a linha heróica, a linha da competitividade, do ganho e da perda, do sucesso e do fracasso, da rapidez — retóricas da linha reta. A imaginação euclidiana entende a reta como a menor distância que une dois pontos distintos. É o primeiro de seus famosos cinco postulados.[14] Em larga escala, ainda somos euclidianos na mente, pois o governo predominante de nossas existências de alma quer chegar em menos tempo e de forma mais direta a seu ponto culminante. É a linha da razão. Fernando Pessoa a sentiu em seu famoso “Poema em Linha Reta”:
Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.[15]
A geometria fascina como a mitologia e a alquimia. Suas concepções, suas imagens, seus usos e seus instrumentos comportam metáforas, suportam conotações metafóricas. A geometria, mesmo sendo uma abstração, e estando portanto alinhada com o espírito, com nous — veja-se, para isso, as lições transcendentais da assim chamada geometria sagrada — pode também nos entregar toda uma psicologia, ou seja, uma disciplina que permite a compreensão da psique. O esquadro, a régua, o compasso, o transferidor são também lindos instrumentos da alma. Tudo a alma desenha: o raio, o arco, áreas, circunferências, volumes, perímetros. Invertendo por um momento a fórmula de Bachelard, os teoremas ocultam poemas. Uma psicologia profunda exige uma geometria íntima. O centro, a periferia, o círculo, os triângulos, os poliedros, a espiral, o ponto e a linha: as intuições geométricas são também metáforas da alma nas quais ela reflete seus processos. Para acentuar essas metáforas, consideremos os ângulos.
A psicologia dos graus conta-nos da vida secreta dos ângulos. O ângulo de 45 graus é oblíquo, o ângulo de 90 graus é perpendicular. A obliquidade do ângulo de 45 graus marca tudo aquilo que nos incide com a qualidade do viés, quando enxergamos outros aspectos nas mesmas situações, vistas um pouco mais para cá ou um pouco mais para lá. 45 graus, um ângulo agudo, surge quando consideramos as coisas de soslaio, de esguelha, diagonalmente, trazendo ao foco outros aspectos que complementam a compreensão, quando entendemos as coisas de um modo ligeiramente diferente do nosso habitual. Com ele, já teremos aberto uma outra perspectiva, e por essa razão o ângulo de 45 graus é também o mais frequente na psicoterapia. Com ele fazemos psicoterapia. A psicoterapia é a arte da obliquidade. O ângulo de 45 graus enviesa-nos, e então vemos algo de modo transversal, ou inclinado, o que nos faz melhor enxergar. São momentos súbitos de consciência aguda, onde existe a possibilidade do diálogo. A poesia da obliquidade incide em várias almas. Os ângulos agudos nos oferecem planos inclinados. As obliquidades são nossas inclinações.
Já a perpendicularidade do ângulo de 90 graus marca uma alteração de perspectiva que traz consigo o inesperado, o surpreendente, e o difícil. Não exatamente o contrário do que estávamos considerando, mas algo totalmente diverso, que vem de um lugar inusitado, não pensado, trazendo o insólito, que nos desarranja mostrando alguma coisa que vem lateralmente, de onde não estávamos esperando, para onde não olhamos sem razoável esforço. Aqui, não há diálogo ou mesmo conciliação. Por isso, os acontecimentos do ângulo de 90 graus são geralmente aqueles que nos levam à psicoterapia. Na astrologia, “aspectos” são posicionamentos angulares entre planetas; o aspecto da quadratura, formado por ângulos de 90 graus, desafia a capacidade de desapego, cria atritos e obstáculos, representa crise, pontos de mutação e de transição. Urano e seus trânsitos, chamado em astrologia de “planeta da revolução”, confirmam para nós essas experiências com visões e ideias que nos atingem a 90 graus. Em psicologia, associa-se ao arquétipo do puer. Na mitologia, governa o céu estrelado. Indica momentos de reviravolta, de rebeldia visionária, de desconstrução. A potencialidade de inovação e originalidade dos ângulos de 90 graus, das tensões mais intensas, pode romper as fronteiras de padrões antigos e superados, quando olhamos para outra direção, numa mudança de visão de ângulo reto. A poesia da lateralidade faz parte de vários estilos revolucionários, e traz, em geral, o novo.
O ângulo de 180 graus, o mais exigente de todos, é o ângulo de Jano. Chamado ângulo raso, trata de uma mudança total de perspectiva, apresentando-nos ao mais alto grau de desafio psicológico, pois com ele estamos diante de tensões complementares. O ângulo raso se parece com a linha reta, mas é bom perceber que ele não é a linha reta — é, ao invés, o resultado de uma abertura radical, pois abre um movimento extremo a partir da coincidência de semi-retas que possuem uma origem comum, ou seja, uma posição original determinada. Em psicologia, “posição original determinada” significa “identidade”. O ângulo raso, pois, subverte a identidade. Na astrologia, esse ângulo apresenta as oposições complementares mais explícitas. Indica conflito, mas também estagnação. Essas tensões conflituosas, que podem ser experimentadas também como negação mútua, indicam necessidade de negociação, uma necessidade maior de diálogo. Jano, o dono do ângulo de 180 graus, enfatiza a dualidade nas questões fundamentais de bem/mal, dia/noite, acima/abaixo, sagrado/profano, próprio/alheio, interior/exterior, verdades/mentiras, até a mais decisiva das duplicidades: vida/morte. O bifrontismo de Jano nos ensina a caminhar pelas dualidades da vida quando se manifestam em momentos importantes, momentos de transposições. Esses são momentos em que podemos cruzar fronteiras.
Transposições
Jano preside sobre tudo em que exista duas possibilidades concomitantes. E em que não há sempre ao menos duas possibilidades? Alto e baixo, direita e esquerda, frente e costas. Jano está aí para mostrar, atém do mais, que tudo que é dual é do homem, pois a condição divina estabelece a simultaneidade, marca o Todo de um cosmo. Jano realiza um olhar retrogressivo e um olhar progressivo ao mesmo tempo. Em poucas palavras, a simultaneidade é sua lição. Seu mundo não é oposicional. Jano é a mesma pessoa olhando o passado e o futuro, ao mesmo tempo visor e retrovisor, a mesma consciência em dualidade simultânea: uma consciência que está olhando para frente e para trás no mesmo momento, simultaneamente origem e telos.
Estamos sempre entre o passado e o futuro, e só uma consciência dupla janosiana poderá de fato nos entregar o presente com sua carga de complexidade. Eliot também conhece profundamente essa psicologia da dualidade, matéria de “Burnt Norton”, primeiro de seus Quatro Quartetos:
O tempo presente e o tempo passado
Estão ambos talvez presentes no tempo futuro
E o tempo futuro contido no tempo passado.
(…)
O tempo passado e o tempo futuro,
O que poderia ter sido e o que foi,
Convergem para um só fim, que é sempre presente.[16]
“Passado-futuro” pode ser chamado esse tempo, que é em tudo diferente do futuro do pretérito, pois este ainda está naquela linearidade que entende o tempo apenas em sua inflexão cronológica. “Passado-futuro” é um tipo de presente, um presente total, o tempo da psique, da alma inconsciente, que não conhece o tempo.
Essa dualidade é arquetípica. Também em Xangô a encontraremos, em sua ferramenta, o machado de Xangô, o Oxê. Oxê significa machado de dois gumes, é um machado duplo. É também o labrys, símbolo eminentemente cretense, encontrado em representações de cultos sagrados minoanos da Deusa Mãe, a Mãe-Terra, conhecido como machado da dupla lâmina, de dupla face simétrica, usado como cetro por Deméter.[17] O Oxê de Xangô corta em duas direções pois ele, como senhor da justiça, nunca pode olhar apenas para um lado.
A pergunta psicológica então seria: que pessoa em nós está vivendo nas fronteiras? Que figura interior é mimética a Jano? Qual o tipo de consciência que Jano exemplifica? Há sempre algo de fronteiriço em nós, borderline, zonas de fronteira que se experimentam na duplicidade e que nos apresentam o modo duplo: a consciência de que não somos sempre um, de que não seremos nunca um só, mas de que há sempre um estrangeiro em nós, um Outro. Jano traz o sentido mais profundo de dualidade e, nesses termos, é uma iniciação: “uma conscientização de que a individualidade não é essencialmente unidade, mas duplicidade, e que nosso ser é metafórico, sempre em dois níveis ao mesmo tempo.”[18] A consciência das fronteiras é uma iniciação, uma iniciação na metáfora.
Muitas vezes, esse Outro está em condição de exilado. Uma necessidade intrínseca na imaginação das fronteiras é a condição do exílio. O exílio é um ponto de vista. A fronteira marca o exílio, e o que está exilado dentro de nós cruzou uma fronteira, cruzou um limite de alcance e não pode mais ser contactado, deixa de ser considerado. Foi banido. Ora, banir depende de fronteiras, da existência positiva das fronteiras. Banir não é um gesto simples, ainda que o pratiquemos diariamente. Banir exige força de ego, e a alma está repleta de eventos banidos, de exílios sentidos, eventos da margem, da repressão, do recalque.
Além da mecânica do banimento, tão importante para a psicanálise e suas descobertas, toda fronteira também tenta o contrabando, atrai o tráfico, seduz o traficante em nós para suas contravenções. O contrabando suaviza a fronteira. Com atravessamentos ilícitos, não conscientes, o contrabando exerce a violação clandestina das fronteiras. O contrabando burla a fronteira nas condições psíquicas onde se faz mais necessária a inclusão de uma consciência hermética ou janosiana. Toda clandestinidade é hermética. Hermes é também o clandestino em nós. Quantos contrabandos em nossas vidas de alma!
Deixem-me terminar com algo que me parece muito importante: os limites desta reflexão levam-me a concluir que as fronteiras são horizontais, ao passo que os muros são verticais. De meu ponto de vista muito particular, a horizontalidade marca a imaginação das fronteiras. Um muro cresce sempre para cima, quando cresce é cada vez mais alto, até a intransponibilidade, ao passo que uma fronteira estende-se horizontalmente. A psicologia da horizontalidade entrega-nos diretamente ao arquétipo fraterno, que rege as relações simétricas de um eixo não autoritário, e à semelhança nas diferenças, tema que há anos venho pesquisando.[19] Pois bem: linhas de fronteira devem ser linhas de simetria. O campo da horizontalidade é o campo do Outro. A fronteira, sendo sempre a metáfora do Outro, do estrangeiro, será, em última instância, metáfora do que está além de mim, além do que sou, na outra margem, desconhecido, desafiante, desviante mas, ao mesmo tempo, aqui comigo. O Outro é sempre um desvio do Eu, um desvão, o outro lado, a outra parte, a outra vida, a outra margem. A vida não vivida.
Pedra Grande
julho/2017
[1] “Localização” é um tema e uma preocupação essenciais em psicologia arquetípica. James Hillman apresenta uma noção de lugar ligada às forças arquetípicas em uma frase memorável: “Os deuses são lugares” — o que nos faz imaginar, em reverso, que os lugares são deuses. E complementa: “Todos os fenômenos são ‘salvos’ pela ação de situá-los, o que de imediato lhes concede valor.” (James Hillman, Archetypal Psychology, Uniform Edition of the Writings of James Hillman, Volume 1, revised and expanded fourth edition, Putnam, CT: Spring Publications, 2013, p. 43.)
[2] Gilbert Durand, As estruturas antropológicas do imaginário, São Paulo: Martins Fontes Editora, 2002, p. 240.
[3] Vincular e separar é próprio do homem, como elaborou Georg Simmel (1858-1918), o eminente sociólogo alemão escrevendo na Berlim do início do século 20, em sua famosa metáfora sociológica “a ponte e a porta”. É também uma metáfora psicológica: é do humano, e apenas do humano, ligar o separado (fazer pontes) e separar o ligado (fechar portas).A ponte nos envia essa verdade. Só quando fazemos pontes podemos perceber duas margens, antes indiferentes uma à outra. Então, para vincular, antes teremos podido separar: “Ser que vincula e que, para tanto, deve sempre separar, ser que, se não separar, não tem como vincular, o homem primeiro precisa apreender em espírito a mera existência indiferente de duas margens como uma separação, para então vinculá-las por meio de uma ponte” (Georg Simmel, “Ponte e porta”, em Serrote: uma revista de ensaios, artes visuais, ideia e literatura, número 17, julho 2014, São Paulo: Instituto Moreira Salles, pp. 69-75). Juntar e separar também estão presentes no esquema do fiar e tecer.
[4] Vinicius de Moraes, Antologia poética, Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1974, p. 115.
[5] Gilbert Durand, As estruturas antropológicas do imaginário, São Paulo: Martins Fontes Editora, 2002, p. 268.
[6] O processo de globalização a que assistimos no planeta nas últimas décadas enfraqueceu o conceito de pátria e de fronteira, e o que agora vemos nos devolve aos pesadelos dos muros. No plano do indivíduo, trata-se de um enfraquecimento na noção de identidade.
[7] Para Carlos Drummond de Andrade, o muro é surdo: “Em vão me tento explicar, os muros são surdos.”: “A Flor e a Náusea”, A rosa do povo, em Fazendeiro do ar e poesia até agora, Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1955, p. 215.
[8] “Quatro Quartetos: The Dry Salvages”, T. S. Eliot, Poesia, tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira, São Paulo: Arx, 2004, p. 359.
[9] James Hillman, O livro do puer, tradução de Gustavo Barcellos, São Paulo: Paulus Editora, 1998, p. 170.
[10] Rafael López-Pedraza, Hermes e seus filhos, São Paulo: Paulus Editora, 1999, p. 96-97.
[11] López-Pedraza, idem, p. 15.
[12] “Se buscarmos a etimologia da palavra, janela deriva do latim vulgar januella, diminutivo de janua (ou iannua) que designava a porta, passagem, entrada, acesso. Já jãnus (iãnnus), substantivo masculino, designa passagem, arcada, pórtico ou galeria abobadada no fórum, onde os banqueiros e cambistas tinham suas lojas: Janus medius, “a bolsa de Roma”, isto é, o meio do templo de Jano onde ficavam os banqueiros. Porém Jãnus (ian), substantivo próprio masculino (Jano), era a divindade das portas de passagem.” (Luís Antonio Jorge, O desenho da janela, Selo Universidade, volume 37, São Paulo: Annablume, 1995, p. 21.)
[13] Walter Otto, Os deuses da Grécia, tradução de Ordep Serra, São Paulo: Odysseus Editora, 2005, p. 66; “Sabe-se o quanto era natural para os gregos conceber o reto conhecimento segundo a imagem de um bom disparo do arco” (p. 68).
[14] Os postulados de Euclides são: 1. Dados dois pontos, há um segmento de reta que os une; 2. Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta; 3. Dados um ponto qualquer e uma distância qualquer pode-se construir um círculo de centro naquele ponto e com raio igual à distância dada; 4. Todos os ângulos retos são iguais; 5. Se uma linha reta cortar duas outras retas de forma que a soma dos dois ângulos internos de um mesmo lado seja menor do que dois retos, então essas duas retas, quando suficientemente prolongadas, cruzam-se do mesmo lado em que estão esses dois ângulos.
[15] Fernando Pessoa, Obra poética, Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2001, p. 418.
[16] “Quatro Quartetos: Burnt Norton”, T. S. Eliot, Poesia, tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira, São Paulo: Arx, 2004, p. 333, 335.
[17] A alabarda, que também apresenta algo duplo, era na Antiguidade uma arma composta de longa haste rematada por uma peça pontiaguda de ferro, atravessada por uma lâmina em formato de meia-lua. Era utilizada por Ártemis.
[18] James Hillman, O livro do puer – ensaios sobre o arquétipo do puer aeternus, tradução de Gustavo Barcellos, São Paulo: Paulus Editora, 1999, p. 198.
[19] Gustavo Barcellos, O irmão: psicologia do arquétipo fraterno, Petrópolis: Editora Vozes, 2009.